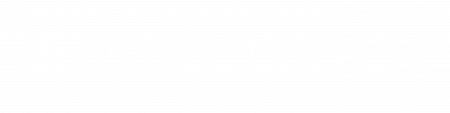“Tem mais ou menos sete anos que eu passei por isso e até hoje é complicado falar sobre o assunto.” A frase é de Risalva Barbosa, negra, mãe de dois filhos e vítima da violência obstétrica nas três gestações.
Na primeira gravidez, Risalva perdeu o bebê. Não sabe até hoje se foi um aborto ou uma gestação molar – tumor benigno que se desenvolve no útero como resultado de uma gravidez não viável -, pois o exame nunca ficou pronto. “Eu fiz um ultrassom que detectou a inexistência do feto. Eu e meu marido fomos, então, direcionados à enfermagem, onde me informaram que eu teria que fazer uma curetagem para saber o que estava acontecendo. Foi quando dei entrada na maternidade, sob suspeita de ter provocado propositalmente um aborto”, conta.
LEIA MAIS: Exposição sobre Carolina de Jesus estreia em São Paulo no dia 18
Quando Risalva conseguiu, finalmente, chegar à sala de cirurgia para fazer o procedimento de retirada do material placentário ou endometrial da cavidade uterina, passou por mais descaso. “A médica foi muito ríspida, disse que queria terminar logo. Quase não deixaram o anestesista aplicar a anestesia geral.”
Sempre que pedia remédios para dor, recebia uma negativa. “Diziam que como eu tinha tentado interromper a vida do meu filho, eu precisava passar por aquilo para saber como era”, lembra. “Em nenhum momento eu tentei abortar, minha gravidez foi muito desejada, muito comemorada, a família toda estava esperando. Esse trauma fez com que eu me cobrasse como se realmente tivesse provocado aquela situação.”
Segundo Marjorie Chaves, coordenadora do Observatório PopNegra, doutoranda em Política Social e mestra em História pela Universidade de Brasília (UnB), a violência obstétrica contra as mulheres negras pode se manifestar de várias formas, numa espécie de ciclo. A primeira delas é a violência por negligência. “Ela pode se manifestar desde a entrada em um hospital ou unidade básica de saúde, passar pelo atendimento – que pode ser dificultado e até negado – e continuar com a falta de informações corretas ou desencontradas sobre o estado de saúde da paciente”, explica a especialista.
Marjorie lembra, ainda, da violência psicológica, quando frases ofensivas são ditas em momentos de dor ou na hora do parto; da humilhação, quando as queixas são subestimadas; e da violência física, quando o uso da força é empregado em movimentos físicos (como a obsoleta manobra de Kristeller), toques excessivos ou uso de instrumentos desnecessários.
ESTEREÓTIPOS E FALTA DE ACOMPANHAMENTO
“No caso das mulheres negras, há um estereótipo que as associam às ‘parideiras’, portanto, recebem menos analgesia, o que caracteriza tortura. Não descartamos situações em que a gestante recebeu tapas ou empurrões por estar gemendo”, conta Marjorie.
Na segunda gravidez, Risalva passou por uma episiotomia, incisão efetuada no períneo, região de tecido que fica entre a vagina e o ânus, para ampliar o canal do parto sem necessidade – e sem anestesia.
Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) intitulado “A Cor da Dor: Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil” apontou que mesmo com menor propensão de fazerem uma cesariana ou passarem por intervenções dolorosas no parto vaginal em comparação às mulheres brancas, as gestantes negras recebem menos anestesia local quando episódios como esses acontecem. O estudo é baseado em dados de outro levantamento, “Nascer no Brasil: Pesquisa Nacional sobre Parto e Nascimento”, realizado entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012.
ENTENDA: O que é placentofagia e por que comer a placenta tem se tornado uma prática comum
Outra forma de violência mais comum em puérperas negras e pardas do que em brancas, segundo estudo da Fiocruz, está relacionada ao acompanhamento. “Fiquei em trabalho de parto sozinha porque meu marido não pode entrar. Ele teve medo que eu morresse por saber de tudo o que eu já havia passado antes. Quando eu engravidei de novo, ele me acompanhou sempre que possível”, lembra Risalva.
Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS, a mortalidade materna é duas vezes e meia maior em mulheres negras do que em mulheres brancas no Brasil. Para Marjorie, o racismo agrava a situação de violência vivida por negras e pobres em quaisquer circunstâncias, mas na saúde ele é determinante nas mortes maternas por causas evitáveis. “Não existe nada na ciência que explique isso, apenas uma análise sociológica consegue fazer entender que as práticas no âmbito da saúde estão permeadas por atitudes racistas que negligenciam pacientes, resultando em iniquidades raciais”, diz a especialista. Para Marjorie, a mortalidade materna no Brasil tem cor e é negra.
Risalva passou por tudo sem saber o que era violência obstétrica. “Não li sobre o assunto porque, na primeira situação, o trauma foi tão grande que eu tentei esquecer. Mas a falta de informação fez com que eu passasse por tudo isso de novo. A violência contra a mulher não é só doméstica, não é só assédio. Nas maternidades também tem muitas mulheres sofrendo. A gente sofre muito pela cor, pela classe, pela faixa etária… Eu via muita gente lá ouvindo desaforo porque era muito jovem, por exemplo, e estava na segunda gravidez”, desabafa.
Risalva canalizou seu sofrimento na criação do Mulheres, o Sexo Forte, projeto que ajuda outras mulheres que passaram pela mesma situação e tenta, ao mesmo tempo, evitar que isso aconteça com outras gestantes, tanto durante a gravidez, quando no parto, no pós-parto e nos casos de perda do bebê.
COVID-19 E POLÍTICAS PÚBLICAS
Marjorie faz um alerta importante: o agravamento da violência obstétrica durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. “Não só aumentou como se tornou um problema que requer soluções imediatas”, diz ela. “Mulheres negras grávidas e puérperas têm risco de morte por Covid-19 quase duas vezes maior quando comparadas às mulheres brancas”, aponta.
Segundo a especialista, há tempos os movimentos negros – especialmente de mulheres – vêm reivindicando a abordagem do racismo na formação dos profissionais de saúde. “Instrumentos legais que punem o preconceito não alcançam instituições. E as denúncias de racismo na saúde não apontam profissionais de forma específica, mas o sistema de saúde como um todo, em seu funcionamento”, explica.
Para ela, é preciso que o Estado assuma o problema e crie condições de igualdade de direitos na saúde. Segundo pesquisa de 2019 da “Gênero e Número”, empresa social que produz e distribui jornalismo orientado por dados e análises sobre questões urgentes de gênero e raça, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que tem o intuito de reduzir os efeitos do racismo na saúde da população negra, foi implementada apenas em 28% dos municípios brasileiros.
“A criação da PNSIPN indicou a necessidade de formação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra no âmbito federal. Com apoio do Ministério da Saúde, foi possível a implantação desses comitês nos municípios, para auxiliar a gestão local do SUS na implementação e monitoramento das ações dessa política”, explica Marjorie.
Porém, ela lembra que a área responsável pelo acompanhamento dessas políticas foi sucateada no atual governo. “Isso resulta em um verdadeiro retrocesso nas ações voltadas para o combate ao racismo na saúde.”
Fique por dentro de todas as novidades da EQL