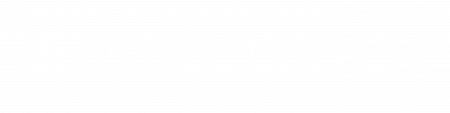Aos 14 anos, quando foi ao ginecologista investigar o atraso de sua primeira menstruação, Claudia Melotti descobriu que fazia parte de uma estatística rara: era uma das poucas mulheres brasileiras que simplesmente não tinham útero. Pelo menos foi isso que o médico disse, sem explicar o motivo por trás dessa condição. “Isso aconteceu em 1984, e não foi fácil. Eu ainda brincava de boneca quando descobri que não tinha útero e não podia ser mãe. Eu me despedi delas com mais sensibilidade depois disso”, recorda.
Mas foi apenas no primeiro ano da faculdade de medicina, após cerca de quatro anos da descoberta que marcou a sua vida, que Claudia teve mais uma surpresa sobre sua anatomia. Durante sua primeira relação sexual, sentiu muita dor e percebeu que aquilo não era normal. Quando foi ao ginecologista, descobriu que também não tinha canal vaginal – ou, pelo menos, que ele era muito mais curto que o normal. “Foi assim, em duas etapas da vida, que fecharam o meu diagnóstico como Síndrome de Rokitansky.”
LEIA TAMBÉM:
- “Quem tem alopecia está todo dia brigando com o espelho e tentando se reinventar”, diz influenciadora sobre condição de Jada Smith
- 7 mitos e verdades sobre lubrificantes íntimos
- “Eu não escolhi nascer onde nasci. Minha única escolha foi não desistir”, diz Maha Mamo, ativista que viveu 30 anos sem nacionalidade
Rara e pouco falada, essa síndrome afeta uma a cada 5.000 mulheres ao redor do mundo. Por aqui, estima-se que cerca de 30 mil brasileiras convivam com o diagnóstico. A descoberta, no entanto, não é simples. Assim como Claudia, muitas meninas passam anos sem saber o motivo da ausência do útero e do canal vaginal. Como o corpo feminino se desenvolve normalmente com a síndrome, inclusive com o crescimento das mamas e dos pelos corporais, as portadoras só percebem que há algo errado quando a menstruação demora para aparecer ou quando a primeira relação sexual se mostra dolorida.
“Essa é uma síndrome que ocorre no momento embrionário. De forma resumida, é uma má formação que acomete o útero e o canal vaginal. Os ovários, no entanto, continuam lá, então a mulher tem um ciclo hormonal tradicional”, explica a médica. “Além disso, também temos a Síndrome de Rokitansky tipo 2, que é mais rara e acomete uma mulher a cada 15 mil ao redor do mundo. Nesse caso, elas também podem ter alteração renal, cardíaca e na estrutura da coluna.” Por atingir mais partes do corpo, a condição tipo 2 pode chamar a atenção para problemas mais cedo. Mesmo assim, a síndrome ainda é de difícil detecção.
“A criança nasce e se desenvolve normalmente, com toda a parte externa visivelmente normal, desde a vulva até a mama. É uma síndrome de descoberta tardia”, resume Claudia. Ao olhar de forma positiva para os acontecimentos da vida, no entanto, pode-se dizer que os quatro anos de intervalo entre as duas descobertas, no caso dela, significaram um avanço essencial para o tratamento. “Tive a sorte de encontrar um médico muito bom, que já tinha atuado nos Estados Unidos e conduziu tudo de maneira muito adequada. O encurtamento do canal foi tratado com um método chamado dilatação. Não foi uma cirurgia de reconstrução. Isso deixou tudo mais natural e saudável.”
Claudia se considera uma pessoa de sorte por ter encontrado um médico assim nos anos 1990. Atualmente, quase 30 décadas depois, ainda é difícil achar profissionais que reconheçam a condição médica e saibam como tratá-la. “A partir daí, eu comecei a desenvolver o desejo de devolver ao mundo a atenção que recebi durante o meu tratamento. Queria ajudar outras mulheres que estavam na mesma situação. A síndrome me fez uma pessoa melhor”, brinca ela. O sonho não se realizou do dia para a noite, mas em junho de 2020 a ideia saiu do papel e ganhou vida.
INSTITUTO ROKI
Em 2015, três décadas depois da primeira descoberta de Claudia, Isabella Barros, de 13 anos, passou pelo mesmo susto. No caso dela, o diagnóstico foi rápido, mas, ainda assim, muito insensível. Para ela, a ausência do útero significava um grande luto. Uma falta grande o bastante para que a jovem começasse a repensar quem era e qual a sua função no mundo. Por não estar vivendo os dramas da TPM e as dores das primeiras cólicas junto de suas amigas, sentia-se sozinha e excluída. Quando pensava na maternidade, algo tão inerente ao corpo feminino, ficava ainda mais abalada. O baque fez com que entrasse em depressão.
Em busca de respostas, a mãe de Isabella, Luciana Leite, chegou a visitar mais de 15 ginecologistas – a maioria mal sabia o que era a Síndrome de Rokitansky. Foi apenas em um evento nos Estados Unidos, com palestras direcionadas para mulheres com a condição, que elas encontraram um espaço de apoio e começaram a absorver a situação com mais calma. Em 2018, ainda em processo de aceitação, o caminho de Isabella cruzou com o de Claudia, que, aos 40 anos, ainda não costumava falar abertamente sobre o assunto. De certa forma, aquele encontro pareceu uma obra do destino.
Com a aproximação entre as duas, veio a aceitação e a vontade de falar cada vez mais sobre o assunto. Afinal, se para elas o contato havia sido tão positivo, para outras mulheres podia ser também. Foi a partir dessa percepção que, em 2020, Claudia, Isabella e Luciana decidiram criar o Instituto Roki, com o objetivo de divulgar informações sobre diagnóstico, tratamento, sexualidade e maternidade. “Oferecemos treinamento para médicos, fisioterapeutas e psicólogos para que as mulheres que procuram o instituto tenham o melhor tratamento possível. Em menos de dois anos, já tivemos contato com mais de 1.000 mulheres e oferecemos terapia para mais de 220 pessoas – entre pacientes e familiares”, conta Claudia.
Para ela, essa noção de que o tratamento da síndrome também envolve a saúde mental é muito importante. “Durante a penetração na hora do sexo, o estiramento no canal vaginal, que é encurtado, gera dor e pode levar ao sangramento. Com isso, vem toda uma carga psicológica e insegurança feminina sobre o corpo. Mais do que isso: a menina descobre, de repente, que nunca poderá gerar uma criança. Essa descoberta envolve uma carga emocional muito forte para qualquer mulher.” Em diversas fases do tratamento, o acompanhamento terapêutico é essencial.
“No Brasil, existe um viés cirúrgico muito grande. As meninas chegam ao médico com Síndrome de Rokitansky e são indicadas ao tratamento de construção vaginal de maneira cirúrgica, e isso não é adequado. A primeira opção é a dilatação, em que se usa moldes acrílicos para a construção do canal vaginal. Isso é muito mais saudável do que uma cirurgia”, explica a médica. “Quando acompanhado por fisioterapeutas e por psicólogos, o tratamento pode durar apenas três meses, embora a média seja de um ano.”
Conheça a plataforma de educação financeira e emocional EQL Educar. Assine já!
Além disso, o instituto trabalha o psicológico das mulheres que sonham com a maternidade e explica quais são as opções para elas, visto que a síndrome não impossibilita a vontade de formar uma família. Para elas, ainda é possível explorar a adoção, a barriga solidária e até o transplante de útero.
PIONEIRISMO NO TRANSPLANTE UTERINO
“O primeiro transplante de útero de doadora falecida do mundo foi realizado aqui no Brasil. Já temos crianças que nasceram por meio desse processo”, conta Claudia. Quando se pensa em nível mundial, a tecnologia está ainda mais avançada. Nos EUA e na Europa, há várias crianças nascidas por meio do transplante de doadoras vivas. “Temos um projeto da Universidade de São Paulo para avançar ainda mais nessa questão. Nosso foco inicial são as mulheres com Síndrome de Rokitansky, mas no futuro podemos expandir para mulheres trans, por exemplo.”
Por meio de uma fertilização in vitro, a mulher que busca engravidar por transplante uterino recebe o útero doado, passa pela técnica de reprodução assistida e segue a gestação inteira em um processo de imunossupressão leve. Após a cesárea – parto indicado para a situação -, retira-se o útero e o esquema de imunossupressão. De certa forma, essa é uma possibilidade animadora para aquelas que sonham em vivenciar a gravidez em seu próprio corpo. Mesmo assim, Claudia ressalta a importância de se validar a adoção e a barriga solidária – ou, quem sabe, de abdicar da maternidade como a conhecemos.
“Eu não sou mãe e sou muito bem resolvida. Coloquei o meu maternar em outras áreas da minha vida e sou muito feliz. Essa é uma escolha minha. Espero que outras meninas possam escolher o que querem para suas vidas também”, destaca.
Fique por dentro de todas as novidades da EQL
Assine a EQL News e tenha acesso à newsletter da mulher independente emocional e financeiramente
Baixe gratuitamente a Planilha de Gastos Conscientes
Conheça a plataforma de educação financeira e emocional EQL Educar. Assine já!