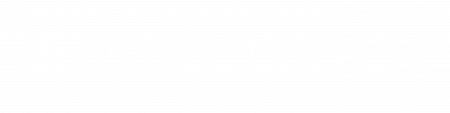Direto dos Estados Unidos, Maha Mamo atendeu a Elas Que Lucrem para uma entrevista sobre sua trajetória. Embora pareça algo trivial, a informação de que a ativista estava em outro país – visitando amigos – durante a conversa é muito significativa: o ato de ir e vir entre fronteiras só foi conquistado depois que o Brasil a acolheu como cidadã, dando-lhe uma nacionalidade após 30 anos como apátrida. “Não importa para onde eu vou e o que eu faço. Posso viajar, pois sei que há uma embaixada para recorrer. Sou considerada um ser humano que não vive mais nas sombras”, diz ela.
Infelizmente, segundo estimativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), esse ainda é o sonho de cerca de 4,2 milhões de pessoas sem nacionalidade em 76 países ao redor do mundo – um número que pode ser ainda maior, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Desde 2014, a entidade investe na campanha #EuPertenço, que pretende acabar com a apatridia até 2024 e conta com Maha como um dos rostos e vozes da iniciativa. Desde o início da campanha, quase 350 mil apátridas adquiriram a nacionalidade em lugares como Quirguistão, Quênia, Tadjiquistão, Tailândia, Rússia, Suécia, Vietnã, Uzbequistão e Filipinas. Mesmo assim, ainda há muito caminho a percorrer.
Conheça a plataforma de educação financeira e emocional EQL Educar. Assine já!
“O que falta para o mundo é conscientização. Eu mesma só fui entender que era apátrida mais velha, com mais de 18 anos. Até então, não conhecia a palavra”, explica a ativista. Filha de um casal inter religioso de sírios – mãe muçulmana e pai cristão -, Maha e seus irmãos eram considerados frutos de uma união ilegal na Síria, que não permite casamento entre pessoas de duas religiões. Por conta disso, o casal decidiu formar família no Líbano. O que eles não sabiam, no entanto, é que o governo local só considera como libaneses aqueles que têm o sangue do país correndo nas veias.
O resultado disso foi um limbo de nacionalidade: Maha e seus irmãos não foram registrados pela Síria, nem pelo Líbano. Cresceram sem documentos e viveram como apátridas até por volta dos 30 anos, quando o Brasil os acolheu como refugiados. “Eu não escolhi nascer no Líbano. Não escolhi ser filha de sírios. A minha única escolha foi nunca desistir”, ressalta Maha. O passaporte brasileiro, que recebeu no dia 4 de outubro de 2018, em um evento da ONU em Genebra, representou uma espécie de renascimento. Desde então, ela tem uma grande meta na vida: fazer com que outros apátridas sintam a mesma sensação de liberdade que ela sente atualmente.
Com a intenção de contar a sua história – dando um rosto e uma voz à apatridia -, a ativista teve a oportunidade de lançar um livro. Escrito em parceria com o jornalista Darcio Oliveira, a obra “Maha Mamo: A Luta de uma Apátrida pelo Direito de Existir”, é uma ótima opção para quem quer saber mais sobre a sua luta. Com planos de lançar um filme nos próximos anos, ela acredita que a literatura e o cinema ajudam no alcance de novos públicos, sendo grandes aliados na disseminação do assunto.
Durante a conversa com a EQL, Maha falou sobre a importância da nacionalidade e da conscientização sobre o assunto, inclusive para brasileiros, visto que há cerca de 3 milhões de pessoas que não possuem nenhum tipo de registro civil no país – os chamados “invisíveis”. Também contou quais foram suas principais dificuldades durante o processo e sobre o futuro da luta para o fim da apatridia.
Leia, a seguir, a entrevista completa:
Elas Que Lucrem: Quando você se percebeu como apátrida?
Maha Mamo: Eu sentia o que era ser apátrida todos os dias, mas só conheci a palavra quando já estava mais velha, com mais de 18 anos. Por muito tempo, acreditei que apenas eu, meu irmão e minha irmã passávamos por isso. Quando comecei a mandar a nossa história para as embaixadas, recebi respostas dizendo que não conseguiriam ajudar, mas uma resposta me surpreendeu mais: a dos Estados Unidos, explicando que eu era uma apátrida. Foi então que eu comecei a me tocar sobre essa definição, que era algo bem mais claro do que eu imaginava.
EQL: Quando você era pequena, quando percebeu que vivenciava situações diferentes do que seus colegas da mesma idade?
MM: Na minha escola, sempre teve a turma dos armênios e a turma dos árabes, então a diferenciação começou lá. Depois, quando fui chamada para praticar basquete com uma equipe profissional, percebi que tinha algo errado. Não conseguia me juntar à equipe, mesmo sendo capitã do time da minha escola. Também sou escoteira desde criança. Quando a minha turma toda viajou para a Jordânia, eu não consegui ir junto. Eu achava que o problema do basquete era meus pais serem sírios e nós estarmos no Líbano. Mas, no caso da viagem do escotismo, o que tinha a ver? Foi nesse momento que eu comecei a perceber que realmente havia algo diferente em mim.
EQL: Seus pais chegaram a explicar essa situação para vocês?
MM: Esse assunto era sempre um tabu dentro de casa. Toda vez que começávamos a falar, virava uma briga gigante entre minha mãe e meu pai, então eles nunca nos explicaram. Acho que nem eles tinham consciência do tamanho das consequências que eles nos colocaram por conta da apatridia.
EQL: Como você resume o que passou nesses 30 anos em que viveu sem nacionalidade?
MM: Quando uma pessoa nasce, ela consegue a sua nacionalidade de dois jeitos: por conta da terra, como no Brasil e nos EUA, ou pelo sangue, como na Europa. Descendentes brasileiros de países europeus conseguem a dupla nacionalidade por conta do sangue, por exemplo. É sempre assim: sangue ou terra. Ao mesmo tempo, existem as leis e as legislações de cada país. Até hoje, temos mais de 24 países onde uma mulher não consegue passar a nacionalidade para seus filhos.
No meu caso, a minha mãe, como mulher síria, não podia passar a nacionalidade dela para nós. Além disso, nossa história tem uma questão religiosa. Tem muitos países que baseiam a nacionalidade a partir de um casamento registrado entre duas pessoas da mesma religião. Isso é feito na Síria. Como minha mãe é muçulmana e meu pai é cristão, o casamento inter religioso lá é ilegal, então eles não poderiam formar uma família. Nós nascemos no Líbano, que também não nos deu nacionalidade. Eles só dão nacionalidade pelo sangue. Só seríamos libaneses se nosso pai fosse libanês. O resultado disso: não éramos nem libaneses e nem sírios. Ficamos em um limbo.
As leis dos países são conceitos muito novos para a humanidade. Desde a criação das nações, muitas pessoas escreveram essas leis. Como seres humanos erram, há muitos pontos que precisam ser revisados.
EQL: E como foi o processo de encontrar o Brasil como um país de acolhimento?
MM: Nenhum país abriu as portas para mim. Mandei a minha história para todas as embaixadas que existem no mundo inteiro, mas fui rejeitada por todas. A única resposta positiva foi a do Brasil, em 2014, mas não porque eu era apátrida. Infelizmente, foi a Guerra da Síria que facilitou a nossa entrada no Brasil, porque fomos considerados refugiados. Nos deram um documento de viagem e falaram: “Não conseguimos ajudar nem os brasileiros, então vocês não podem esperar muito da gente. A única coisa que vamos te dar é o documento de viagem”.
Eu busquei nas redes sociais e achei uma família da periferia de Belo Horizonte que aceitou nos acolher. Fomos morar lá e, quando chegamos (eu e meus irmãos), achávamos que o Brasil já tinha leis e estava preparado para nos receber como apátridas. Descobrimos que não havia nem a definição dessa palavra nas leis brasileiras. Para ficarmos legalmente no país, pedimos asilo. Com isso, ganhamos os direitos básicos de trabalhar e morar em território brasileiro como refugiados. Não tínhamos outra escolha. O Brasil foi o único país que nos acolheu.
EQL: Como foi a recepção?
MM: O melhor do Brasil é o povo. As pessoas foram muito receptivas e se interessaram em entender o que significava um apátrida, mesmo sendo algo tão distante para elas. Além disso, o ACNUR no Brasil foi um aliado muito grande. Eu entrei em contato e eles me ajudaram muito. Comecei a fazer palestras com a ONU por meio da agência. Foi a partir dessa união que eu entrei para a campanha “Eu Pertenço”, que começou em 2014 e tem como foco mudar a realidade da apatridia no mundo. A rede que foi se construindo e crescendo a partir dessa parceria foi muito grande. Foi assim que eu fui recebida.
Infelizmente, o mercado de trabalho não é dos mais preparados. Isso foi um desafio muito grande. Eu sou formada em sistemas de informação e tenho mestrado em administração. Cheguei ao Brasil falando quatro idiomas: inglês, francês, árabe e armênio, mas não falava português. Era difícil me integrar ao mercado. Eu e meu irmão começamos a panfletar nas ruas, enquanto a minha irmã conseguiu emprego em uma padaria. Qualquer emprego é digno e fornece dinheiro para comprar comida e viver de forma íntegra. Mesmo assim, foi um período conturbado. Tudo era novo, até o clima. No Líbano, se está frio, está chovendo, porque estamos no inverno. No Brasil, se está frio, estamos no inverno, mas não chove nada. Todos os detalhes são difíceis.
EQL: E como foi conquistar a nacionalidade? O que mais a marcou?
MM: A minha liberdade. Hoje, eu pertenço a um país. Não importa para onde eu vou e o que eu faço. Posso viajar, pois sei que há uma embaixada para recorrer. Sou considerada um ser humano que não vive mais nas sombras. Não sou invisível. A batalha, hoje, é tentar viver uma vida normal. Após uma luta de 30 anos, consegui conquistar o que eu tanto queria, e agora é hora de buscar novas metas.
EQL: E quais são essas novas metas?
MM: São muitas [risos]. A minha maior meta é conseguir uma humanidade sustentável, onde a gente consiga viver com igualdade. Onde todos tenham direitos humanos básicos, como uma simples nacionalidade. São milhões e milhões de pessoas que precisam de ajuda, mas quando eu vejo que, depois de mim, mais 16 apátridas foram acolhidos pelo Brasil, sinto que estamos melhorando pouco a pouco. Nos últimos anos, também consegui montar uma equipe de mulheres voluntárias do projeto “Eu Existo”, que nasceu para contribuir com a mudança de vida de uma criança apátrida no Líbano. Todas essas pequenas conquistas são grandes presentes.
Em dezembro, visitei a República Dominicana e fui conhecer os apátridas que vivem por lá. A realidade deles é a seguinte: não tem comida, não tem água e a precariedade é enorme. Eles vivem assim por serem apátridas e isso me toca muito. Como eu consigo contribuir para um mundo melhor? Como consigo fazer a minha parte e criar uma rede de colaboração para promover mudanças? Essa é a origem das minhas metas.

EQL: O que falta para que o mundo avance para o fim da apatridia?
MM: Estamos buscando conscientização. Precisamos falar mais sobre o assunto. Se não temos noção do tamanho do problema, como vamos ajudar a resolver? No Brasil, por exemplo, achamos que a nacionalidade é um conceito muito simples, mas não é. Isso foi provado com a última redação do ENEM, que falava sobre as pessoas invisíveis. Temos mais de 3 milhões de pessoas vivendo sem registro no país. São brasileiros que podem se registrar quando quiserem, mas que vivem a vida como apátridas porque não entendem a importância do registro.
Precisamos nos registrar para ter todos os direitos básicos: educação, saúde, direito de ir e vir e segurança. São coisas básicas. Se você vai num bar, a primeira coisa que vão pedir é o seu documento. Se você vai comprar um chip de telefone, a primeira coisa que pedem é o CPF. São coisas pequenas que, no dia a dia, as pessoas não pensam. Você faz 18 anos e, se quiser, tira a sua habilitação. Mas tem muita gente que quer tirar a carteira de motorista e não consegue. Eu, por exemplo, tirei a minha aos 28 anos, depois que fui considerada refugiada no Brasil.
Precisamos falar mais sobre o assunto. Se a sua vizinha ficou grávida, teve uma criança e não a registrou prontamente, ela provavelmente não sabe a importância dos documentos. Não sabe que eles são o caminho para os direitos básicos. Precisamos resolver isso primeiro. Hoje, o Brasil já tem as suas leis e reconhece as pessoas apátridas, facilitando a naturalização. É um exemplo para o mundo inteiro. Só precisamos pegar isso e replicar nos outros países, mas o mais difícil é explicar a situação. O que nos falta é conscientização.
EQL: Na sua opinião, os outros países estão perto do avanço no acolhimento de apátridas?
MM: Eu acredito que, a cada dia, chegamos mais perto. Desde que eu comecei o meu trabalho com a ONU, vejo mais pessoas se informando sobre o assunto. Cada pessoa que se interessa é a representação de um público novo que estamos alcançando. Com a nossa entrevista agora, vamos alcançar um público que talvez não conheça a minha história e nunca tenha ouvido falar sobre apatridia. Eles vão saber a importância de ter uma nacionalidade e, a primeira coisa que vão fazer quando tiverem filhos, é registrá-los.
Eu não escolhi nascer no Líbano, eu não escolhi ser filha de sírios. A minha única escolha foi nunca desistir. Os países estão vendo e nos ouvindo. Em 2019, eu tive o privilégio de contar a minha história em um painel da ONU em Genebra, onde fui entrevistada pela atriz Cate Blanchett na frente de representantes de todos os países. Nossa conversa tocou muitas pessoas. Quando a entrevista acabou, muitas vieram me abraçar. Uma ministra, em específico [que Maha prefere não revelar o nome] me abraçou e falou: “Eu nunca imaginei uma história assim. O quanto um papel muda a vida das pessoas.”
Eu acredito que o mundo tenha focado em outros assuntos após o início da pandemia de Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, acho que a crise sanitária fez com que todos se sentissem um pouco apátridas também. As pessoas ficaram dentro de suas casas sem conseguir ir para o trabalho, sem sair do país, sentindo-se incapazes e inseguras. Ficaram dentro de quatro paredes. Essa é a vida de um apátrida. Você não consegue fazer nada.
EQL: Quais foram os sonhos ceifados por essa realidade?
MM: Na infância, eu queria muito ser médica, porque acreditava que médicos mudavam o mundo de um jeito bom, salvando vidas. Na época, eu cheguei a levar as minhas notas para a faculdade, mas sem meus documentos. Fui humilhada e me mandaram embora. Acharam que eu estava de brincadeira. Eu também queria muito ser uma jogadora profissional de basquete. Esse sonho foi embora da mesma forma. Mas tudo bem, vida que segue. Também conquistei apenas metade do maior sonho da minha vida e da vida dos meus irmãos, que era conseguir a nacionalidade. Eu consegui a minha e a da minha irmã, mas meu irmão morreu em uma tentativa de assalto em Belo Horizonte. Ele faleceu como apátrida. Hoje, eu não quero mais ser médica, embora ainda acredite no potencial da carreira em salvar vidas. A questão é que agora eu mudo a vida das pessoas de outro jeito: conscientizando sobre a apatridia.
Fique por dentro de todas as novidades da EQL
Assine a EQL News e tenha acesso à newsletter da mulher independente emocional e financeiramente
Baixe gratuitamente a Planilha de Gastos Conscientes