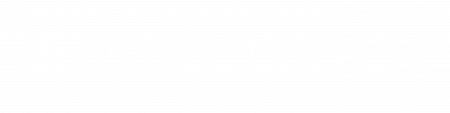É bem em frente a uma das 59 sedes do Bom Prato, programa de restaurantes populares criado pelo Governo de São Paulo, que Jandira Mariana Senna, 56 anos, dorme. Do outro lado da calçada, ela, o seu companheiro e alguns amigos que fez nas ruas por onde passou conseguiram colchões, cobertores e alguns outros itens para melhorar o pequeno espaço que ocupam no bairro de Santa Cecília, região central da capital paulista.
Na hora da entrevista, Jandira tinha terminado de almoçar e estava sentada em uma cadeira na calçada, ao lado da sua cama. Estava se preparando para dar início ao seu trabalho, vendendo máscaras pelas ruas do centro da cidade. O dinheiro que arrecada serve para custear uma injeção diária que precisa tomar para aliviar as dores causadas por uma hérnia abdominal. “Um marido que tive na rua me batia muito e, um dia, atirou em mim. O resultado foi esse. Tenho que tomar isso para o resto da minha vida”, conta.
Conheça a plataforma de educação financeira e emocional EQL Educar. Assine já!
Jandira nasceu em Ilhéus, sul da Bahia, mas se mudou com o pai e o irmão para São Paulo com alguns meses de vida. Nunca conheceu a mãe, que morreu no parto. Até os nove anos, lembra que tinha uma vida considerada boa, apesar das dificuldades financeiras. Quando completou 10 anos, sofreu abuso sexual do pai e de outros dois amigos dele. “A violência foi tão grande que eu fiquei na UTI por dois meses e perdi o útero.”
A vendedora diz que sua vida mudou de rumo depois daquele dia. “Em busca de vingança, meu irmão matou nosso pai.” Jandira prefere não revelar todos os detalhes da época, mas o fato é que ela ficou presa por quase 20 anos. “Eu estava no Carandiru no dia do massacre [quando 111 detentos foram mortos após uma intervenção da Polícia Militar], morei na Cracolândia por muito tempo e hoje vivo nas ruas de Santa Cecília.”
Para ela, que não tem uma moradia fixa há mais de 20 anos, ser uma mulher em situação de rua a colocou em uma condição ainda pior de vulnerabilidade psicológica, física e social. “Eu tive alguns maridos na rua, mas nunca me sentia protegida por eles. Apanhava demais, até perdi os meus dentes. Hoje, o meu maior sonho é colocar uma prótese”, revela.
Jandira quer juntar dinheiro para conseguir alugar e dividir um quarto com o atual marido, mas lamenta só conseguir arrecadar R$ 30 por dia com as vendas – recurso que já tem destino certo.
PANDEMIA AUMENTOU EM 31% O CONTINGENTE DE MORADORES DE RUA – NO MÍNIMO
Assim como Jandira, há muitas pessoas em situação de rua na capital paulista. Impulsionado, principalmente, pela pandemia de Covid-19, esse contingente passou de 24.344, em 2019, para 31.884 no final de 2021, o que representa um aumento de 7.540 pessoas ou 31%, de acordo com o Censo da População em Situação de Rua conduzido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da prefeitura. O levantamento foi feito depois do início da crise sanitária mundial.
Coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, o padre Júlio Lancellotti, figura ativa em ações de apoio a moradores em situação de rua no estado, critica o censo feito pela prefeitura da capital e diz que as entidades independentes da gestão municipal não reconhecem esse número. “Todas contestam o resultado, principalmente pela metodologia utilizada e pelos testemunhos dos próprios recenseadores.” Para ele, o número de pessoas nas ruas é muito maior, o que dificulta a criação de políticas públicas que atendam quantitativamente e qualitativamente às demandas dessa população.
Ele também denuncia que, mesmo com a crise econômica se agravando e o desemprego crescendo, a estratégia da prefeitura para essa população continuou a mesma. “Os centros de acolhida não são pensados para as demandas de quem vive na rua, são centros de tutela e não preservam a autonomia e a liberdade das pessoas.”
POLÍTICA DO ATRASO
Ao andar pelas ruas da cidade, é possível perceber, sem precisar dos dados do censo, que houve um aumento expressivo de moradores de rua. O que muitas vezes fica obscuro, no entanto, é a mudança no perfil das pessoas que estão nessa situação. O número de famílias, por exemplo, foi de 20% em 2019 para 28,6% em 2021. Já o percentual de mulheres em situação de rua passou de 14,8% para 16,6% no mesmo intervalo de tempo. Com novos perfis, surgem novas demandas – como o próprio padre sugere. As iniciativas de política pública, no entanto, não parecem entender esse novo cenário.
“As mulheres, ainda que sejam uma minoria quantitativa nas ruas, são mais vulnerabilizadas do que os homens, já que possuem uma carga de atividade doméstica alta e vivenciam muitas violências”, explica Juliana Reimberg, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), da USP. “Quando eu falo sobre atividade doméstica, refiro-me ao fato de que as mulheres são os principais elos das crianças em situação de rua. Elas são mais impactadas por essa sobrecarga porque não conseguem procurar emprego e sair da condição na qual se encontram se não tiverem um lugar para seus filhos ficarem durante o dia, como creches e escolas.”
Além disso, nos centros de acolhida, não há vagas suficientes nos serviços direcionado às famílias. Tudo é dividido entre feminino e masculino, sendo assim, os pais precisam seguir um caminho e buscar emprego, enquanto as mulheres esperam e cuidam dos filhos no serviço de acolhimento. Segundo Juliana, que estuda de perto o funcionamento da assistência social, o grande problema desse cenário é o fato de que não há um atendimento pensado para cada cidadão. “Nos centros de acolhida femininos, temos mães, idosas, enfermas e violentadas. Todo tipo de mulher, com histórias e necessidades diferentes, e apenas uma forma de tratamento. Isso faz com que as dinâmicas do cotidiano desses locais não sejam almejadas pelas mulheres em situação de rua”, explica a especialista.
Simone Kelly, 43 anos, que viveu nas ruas de São Paulo durante cerca de oito anos, diz que muitas vezes as mulheres preferem dormir na calçada do que ter uma cama quente e um banheiro limpo no centro de acolhimento. “É tudo muito maquiado para parecer um lugar bom, mas a alimentação é péssima e o tratamento é desumano, com um olhar higienista. Ninguém vai conseguir mudar a vida de uma mulher em situação de rua se tratá-la como um simples número. Falta escuta ativa”, diz.
Para Juliana, a necessidade de um atendimento mais humanizado se tornou ainda mais urgente após a pandemia. “Neste período, além da alta taxa de desemprego, houve um infeliz aumento no número de vítimas de violência doméstica, um dos principais motivadores para que mulheres decidam sair de casa. Nestes casos, tudo que elas precisam é de uma moradia para reconquistar um emprego e recomeçar a vida”, explica. “Muitas delas nunca passaram uma única noite na rua. Foram direto para os centros de acolhimento fugindo da violência doméstica e começaram a fazer parte dos dados de pessoas em situação de rua, já que realmente não têm para onde voltar.”
Na rua, no entanto, o ciclo de violência continua. Um outro levantamento, feito pelo Ministério da Saúde, mostra que as mulheres foram as principais vítimas de agressões cometidas contra a população em situação de rua: elas representam 50,8% dos 17.386 registros de violência de 2015 a 2017. “Só assistência social e atendimento médico não suprem as necessidades dessas mulheres. Elas precisam de um acompanhamento psicológico e jurídico para que consigam se restabelecer.”
Em outras palavras, é preciso que as políticas públicas sejam atualizadas. A população trans, por exemplo, também aumentou no último censo, passando de 2,7% em 2019 para 3,1% em 2021. Para essas mulheres, também não há atendimento especializado. “Elas ainda são obrigadas a frequentar centros masculinos, visto que os serviços focados no atendimento desse público possuem poucas vagas.”
De acordo com a pesquisadora, ainda há muito a evoluir quando se trata do assunto. Hoje, o principal caminho, além da atualização dos cenários, são as políticas intersecretariais, promovendo um diálogo entre diferentes áreas, como saúde, habitação, emprego e educação. “A assistência social sozinha não dá conta da situação”, destaca.
Mas nem tudo é ineficiente. Juliana cita, por exemplo, o projeto Moradia Primeiro, que já funciona em alguns países. “Nele, você dá a moradia primeiro e depois trabalha com as outras ferramentas de assistência. Recomeçar a partir de um lar é bem diferente do que ficar em um centro temporário.”
Com a bandeira vermelha levantada pelo último censo, espera-se que as políticas públicas realmente se modifiquem. “Temos uma população muito diversa e uma resposta única. Isso não pode acontecer”, conclui Juliana.
A IMPORTÂNCIA DE NOVOS HORIZONTES
Foi quando morava embaixo do viaduto Bresser, no bairro da Mooca, na zona leste da capital, que Simone Kelly pensou que sua vida estava acabada. Sem muita esperança de conseguir sair daquela situação, ela vivia uma montanha-russa de sentimentos. No total, foram oito anos vagando pelas ruas da capital paulista.

Ela diz que existem muitas razões que levam uma pessoa a terminar assim. A sua, por exemplo, foi não ter para onde ir. Quando saiu do presídio, onde ficou detida por quatro anos, descobriu que seu marido tinha vendido a casa e ido embora com os filhos do casal. “Eu até tentei procurá-lo quando fui solta, mas ele já tinha constituído família com outra mulher. O único lugar que eu tinha para ir era a casa da minha mãe, mas assim que eu cheguei lá, a família me internou em um hospital psiquiátrico, como se eu fosse louca. Até que eu consegui fugir e voltar para São Paulo. Tudo que eu vivi mexeu muito com a minha cabeça, então ir para a rua foi uma forma de revolta e refúgio da minha própria vida.”
Simone lamenta ter perdido a guarda dos filhos, mas tem consciência que nenhum juiz devolveria as crianças a ela. “Sem emprego, sem casa, ex-presidiária e com histórico manicomial.” Foi nessa época, por volta de 2008, que ela fez da rua a sua casa.
“Enfrentei muita dificuldade por ser uma mulher na rua. Quando eu cheguei, nos três primeiros dias, não conseguia dormir porque tinha muito medo de ser violentada ou morta. No viaduto, tinha duas mulheres com seus companheiros. Elas me viram e observaram que eu estava muito cansada, dormindo sentada já. Vieram falar comigo e perguntaram se eu precisava de ajuda. Eu disse que estava com sono, mas com medo. Elas disseram, então, que eu podia dormir, porque elas ficariam acordadas ali cuidando de mim. Me acolheram. Dividiram o nada comigo, e foi com elas que eu aprendi o que era viver nas ruas de São Paulo.”
Em 2015, Simone conseguiu sair daquela condição, impulsionada pela gravidez. “Eu me envolvi com uma pessoa e, depois de um ano de relacionamento, decidimos que mudaríamos a nossa vida e teríamos um filho. Começamos a trabalhar para que pudéssemos ter um lar. Conseguimos alugar um quarto, meu companheiro conseguiu um emprego formal e eu continuei olhando carro na rua por um tempo.” Hoje, ela é agente social e vive em uma ocupação na Mooca.
Mesmo com moradia, Simone não se distanciou das ruas. Ela continua conectada às causas de apoio a essa população. “Foram outras mulheres que me acolheram, me ouviram e trouxeram palavras de força. Quando pessoas de fora chegam trazendo novos horizontes, as outras conseguem ser resgatadas desse meio. Eu sou prova disso.”
PS: Especialistas na área apontam o termo “população em situação de rua” como o correto, já que o termo “morador” indica a ideia de “moradia”, uma palavra contrária à situação vivida por essa população. “Não queremos transmitir a ideia de que a rua é uma morada”, destaca Juliana.
Fique por dentro de todas as novidades da EQL
Assine a EQL News e tenha acesso à newsletter da mulher independente emocional e financeiramente