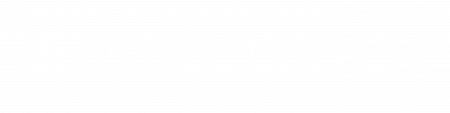Duramente reprimidas no período da ditadura militar brasileira, entre os anos de 1964 e 1985, as mulheres não deixaram de resistir, ainda que em menor quantidade do que os homens: elas se organizaram em clubes de mães, associações, comunidades eclesiais de base (CEBs) e movimentos contra o custo de vida e por direito a creches. Tudo isso batendo de frente com o papel passivo e doméstico que a sociedade da época lhes impunha.
Apesar disso, as mulheres, por muito tempo – se não até hoje -, só foram lembradas como coadjuvantes. Quando se pensa em um “rebelde”, ou seja, alguém que tenha lutado contra o regime autoritário vigente no país, nunca é uma figura feminina que primeiro vem à cabeça. Ana Maria Ramos Estevão prova o contrário. Na época dos chamados anos de chumbo, ela era estudante de serviço social, envolvida com o movimento estudantil e a organização Ação Libertadora Nacional (ALN). Lá, diversas mulheres tiveram papel relevante e de protagonismo – inclusive na luta armada.
“Nossa luta não foi em vão. A gente conseguiu tecer todos os fios da sociedade para que a ditadura caísse, com movimentos sociais e grande protagonismo das mulheres”, conta Ana Maria, que auxiliou a ALN a lutar contra o regime militar durante os anos do governo de Emílio Garrastazu Médici (1964-1969) e do AI-5 – o ato institucional mais duro decretado durante o autoritarismo brasileiro.
Os caminhos da ditadura
O golpe de 1964 começou a ser elaborado logo após a posse de João Goulart, três anos antes. Com um discurso “mais à esquerda” ou “não anticomunista o suficiente” para os padrões norte-americanos, Jango se tornou uma ameaça ao capitalismo – que tinha como principal representante os Estados Unnidos e era fortemente apoiado por governantes conservadores e militares.
Por estar alinhado às ideias da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e querer colocar em prática reformas de base – principalmente a agrária – Jango e sua proposta de governo não agradavam à burguesia e aos capitalistas. A interferência da CIA – agência de inteligência norte-americana – e de agentes dos EUA no governo brasileiro tinha como foco implementar medidas anticomunistas e uma contrarrevolução preventiva a partir do apoio a uma investida militar contra o governo do então presidente.
LEIA MAIS
- A “alma dolorida” de uma mãe ucraniana a leva de volta para casa apesar dos riscos
- História de guerra: crianças ucranianas usam o giz de cera para ressignificar o trauma
- “Eu consegui sair, mas outras pessoas ficaram para trás”, diz Marianna Petrovna, brasileira que vive na Ucrânia
Foi graças a essa intervenção, via Operação Brother Sam – com agentes da CIA e aparatos de guerra capazes de preparar o país para uma guerra civil -, e financiamento de grupos políticos que o golpe se tornou uma realidade.
Cinco anos após os militares tomarem o poder, uma jovem negra chamada Ana Maria ingressou na faculdade – e logo se destacou no movimento estudantil. Foi por meio dele que ela acabou também se envolvendo com a ALN. “Eu morava em uma república, já que meus pais estavam na periferia de São Paulo e não existiam ônibus que pudessem me levar até lá depois da aula, tarde da noite”, relembra Ana.
Como militante, Ana Maria atuou com as massas e, em seguida, prestou apoio logístico à ALN. Às vezes, até escondia pessoas procuradas pela polícia. Foi por isso, inclusive, que foi presa. “Todos que estavam na república, até aqueles que foram apenas nos visitar, foram detidos. A maioria era mulher”, conta.
Ironicamente, ela morava na Rua da Liberdade. Lá, foi presa pela primeira vez, em 11 de julho de 1970, pelo Capitão Maurício, que nunca foi punido por seus atos.
Torturas
Da Rua da Liberdade, Ana Maria foi levada à Operação Bandeirante (Oban), onde ficou por 19 dias. “Foi terrível. A gente levou muito choque, muito pau de arara, além das ameaças constantes. Essa foi a época em que a tortura era comandada pelo Major Ustra, cujas equipes eram reconhecidas pela forma violenta de atuação. Era uma violência que desumanizava, para mostrar poder”, relembra.
As próprias torturas contra as mulheres na ditadura eram diferentes das que envolviam homens. Muitas relatam violência sexual sistemática, abortos forçados quando eram capturadas grávidas ou até choques elétricos aplicados em seus órgãos genitais. Isso sem contar a tortura de crianças – seja física ou psicológica – para atingir as mães. Os interrogatórios também levavam em conta, muitas vezes, o gênero. “Nos perguntavam se éramos virgens, assim como outras coisas pessoais e de cunho sexual. Eu não sofri violência sexual, mas muitas outras sofreram”, conta Ana Maria.
“Eu e as mulheres que estavam ali nunca paramos para falar sobre as torturas que sofremos. Acho que era uma forma de nos protegermos e não sofrer muito. Mas sabemos que, no caso daquelas que eram mães, eles levavam os filhos para assistir às sessões de tortura”, conta. Por isso, enquanto estava na Oban, Ana pensava só conseguia pensar na sorte que tinha por não ter filhos ou família envolvida. “Eu acho que eu não aguentaria.”
Da Oban, Ana Maria foi para o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), e, na sequência, para uma penitenciária feminina conhecida como Torre das Donzelas. Ela tenta agora ressignificar esse nome, que parece, aos seus olhos, um pouco romantizado. “Esse era um termo até carinhoso, que dá ao homem o papel de protetor quando, na verdade, não era isso que acontecia.”
A Torre das Guerreiras
No entanto, Ana tem mais memórias boas do que ruins de quando vivia na torre. Na verdade, ela se sentia até protegida, tanto que teve medo quando saiu, em abril de 1971. “A torre era como uma vitrine. Lá, o Estado mostava como as presas eram tratadas para as organizações de direitos humanos que vinham ao Brasil verificar a prática de tortura. Os agentes não levavam na Oban ou no DOPS. Na torre, as organizações encontravam uma prisão com pessoas vivendo uma vida quase normal”, relembra.
E, de fato, Ana Maria conta que o dia a dia por lá era de solidariedade, ou de, como chamamos hoje em dia, sororidade. “Era um ambiente muito coletivo. A gente fazia o máximo para manter o alto astral, para evitar que alguém entrasse em depressão. Tínhamos atividades o dia todo”, conta. Elas cozinhavam, faziam teatro, liam e Ana teve até aula de francês. “Tudo isso numa tentativa de nos mantermos unidas, fraternas, apesar de todos os dramas pessoais.”
OLHA SÓ
- “O sentimento que predomina é o de medo”, diz jogadora brasileira presa na Ucrânia
- “Me sinto uma prisioneira do Talibã e minha vida está em perigo”, diz única guia turística mulher do Afeganistão
- Escolas secretas: Professoras afegãs desafiam o Talibã e ensinam adolescentes de forma clandestina
Entre suas companheiras de cela estava a ex-presidente Dilma Rousseff. “Ela dividia uma beliche com a Heleny Guariba. Sempre faço questão de mencioná-la porque ela está desaparecida até hoje. Eu ficava na cama ao lado”, relembra Ana.
Após sair da torre em 1971, a militante foi detida outras duas vezes: em 1972 e 1973, quando ficou presa por quase dois meses. Hoje (31), quando o golpe militar completa 58 anos, ela lança o livro “Torre das Guerreiras e Outras Memórias”, uma publicação da 106 Memórias (Editora 106), em colaboração com a Fundação Rosa Luxemburgo, no qual relata sua história. Seu objetivo é que essa história nunca seja esquecida – fato que no Brasil é mais a regra do que a exceção, principalmente se observamos alguns movimentos atuais que pedem a volta de regimes ditatoriais.
“Eu sempre penso que essas pessoas não fazem ideia do mal que podem estar causando. Não só para elas mesmas, mas para as famílias, filhos e netos. Até fazer uma manifestação pedindo um ato institucional seria proibido em uma ditadura. Isso é uma tentativa de apagar a memória”, finaliza Ana Maria.
Fique por dentro de todas as novidades da EQL
Assine a EQL News e tenha acesso à newsletter da mulher independente emocional e financeiramente
Baixe gratuitamente a Planilha de Gastos Conscientes
Conheça a plataforma de educação financeira e emocional EQL Educar. Assine já!